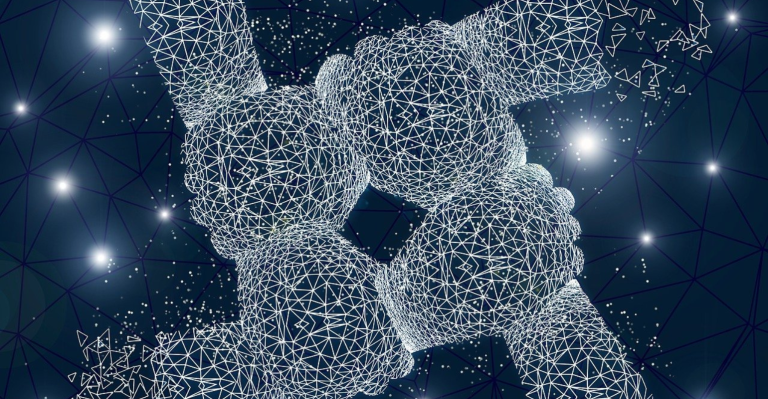Desde que comecei a participar de “huddles” diários como eixos centrais de um sistema de gestão, não me canso de me surpreender com o poder dessa prática, de como eles são capazes de fomentar uma nova cultura nas organizações.
Para quem ainda não conhece, os “huddles”, também chamados de “rounds de início de turno”, são, em essência, aquelas reuniões rápidas, de cerca de 15 minutos, feitas com a equipe de um determinado setor, com, geralmente, todos em pé, se possível ao lado de quadros de gestão visual, para alinhar o time, discutir prioridades, identificar problemas e buscar soluções definitivas de forma ágil.
Desde sempre, atuei em um modelo de huddle com estrutura padronizada para verificar problemas de segurança, variações entre a capacidade e a demanda prevista, checar a eficiência, o status do time, os equipamentos e outros recursos, além de falarmos sobre os andamentos dos projetos, comunicados e celebrações.
No começo, as ideias não fluem, e muitos problemas acabam esquecidos. Em alguns lugares, o huddle vira “round de octógono”. Habituadas ao isolamento, sem o hábito de interagir e falar abertamente sobre problemas, as pessoas acabam por apontar dedos, atribuindo culpas, empurrando responsabilidades e entrando em conflito.
Perseverar nesses momentos exige paciência, um pouco de orientação e foco na solução dos problemas, e não em encontrar alguém para jogar a culpa. Em algum tempo, o time se entende e começa a tratar dos problemas, a colaborar e a interagir mais. Em alguns meses, o huddle ganha vida própria, a colaboração cresce, cria extensões para outros ambientes, e uma maior proximidade surge entre pessoas que, embora trabalhem juntas há anos, ainda não se conhecem.
Sempre que faço alguma atividade para “quebrar o gelo” em treinamentos e workshops que ministro, as pessoas se surpreendem ao adquirir um pouco mais de conhecimento sobre colegas com quem trabalham há anos, mas que nunca tiveram meios para se aproximar um pouco mais. Numa dessas ocasiões, todos se descobriram músicos amadores, uma perfeita banda, embora nunca sequer tenham falado sobre música.
A força dos huddles no desenvolvimento das equipes cria laços tão robustos que, mesmo em lugares onde há uma grande reviravolta na gestão – um novo CEO que chega para fazer tudo diferente, e acha bobagem gastar energia com isso –, os times resistem.
Conheço lugares, onde essa mudança de estratégia ocorreu há mais de quatro anos, em que os huddles ainda persistem, sem qualquer apoio das lideranças camadas acima na hierarquia. Mesmo sem poder escalar e tratar dos problemas de forma estruturada – elemento essencial para o bom desempenho de um sistema –, somente a oportunidade de se reunir, planejar e se antecipar aos problemas do dia justificam o encontro.
Quando fui diretor de um pronto-socorro durante a pandemia, os huddles foram essenciais não só para garantir a operação, mas também para enfrentar os desafios e as incertezas do dia a dia. As recomendações de cuidado mudavam como o vento, polêmicas sobre como quando entubar ou usar corticoides, precauções de contato etc. eram diárias. No entanto, o que mais me surpreendeu foi o senso de pertencimento, apoio mútuo e colaboração que os huddles traziam para as equipes.
Todos tínhamos medo de morrer, mas o que mais apavorava era o receio de ser um vetor para dentro de casa e contaminar filhos ou pais. Falávamos sobre isso todos os dias nos huddles – sobre a capacidade de nos proteger e de proteger nossos familiares. Falávamos sobre os estoques de EPIs e álcool gel, sobre nosso pessoal, quantos dias à frente tínhamos de materiais, sobre as recomendações de segurança, cuidado e sobre como nos adaptar melhor às demandas daquele dia. Apesar do volume desumano de trabalho e dos enormes desafios do serviço público, as equipes seguiam confiantes. Havia um senso de comunidade e de que estávamos cuidando uns dos outros.
Quando perguntaram a antropóloga Margaret Mead o que seriam os primeiros sinais de uma civilização, a resposta não foi a presença de peças cerâmicas, objetos ou construções. Para ela, o primeiro sinal de uma civilização foi encontrar um esqueleto com um fêmur fraturado e curado: a presença de um calo ósseo em um fêmur era o sinal inicial mais importante de uma civilização.
Uma fratura de fêmur é uma sentença de morte quando não há alguém para cuidar, proteger e alimentar essa pessoa. Para ela, a civilização surgiu quando cuidar do outro passou a ser tão importante quanto cuidar de si mesmo. A civilização surge a partir do senso de comunidade, quando grupos de indivíduos passam a ter propósitos em comum e a cuidar uns dos outros.
Dee Hook, o fundador e CEO emérito do cartão VISA – criado como uma rede global de transações monetárias baseadas em um pedaço de plástico, sem uma estrutura hierárquica tradicional e centrada em pequenos times autogeridos –, acredita que uma comunidade se organiza a partir de três conceitos essenciais: trocas não monetárias, valores não materiais e proximidade. Essas são coisas que não podemos medir, não temos lembrança de quando exatamente começou e sobre as quais não pedimos algo em troca.
Refletindo um pouco sobre esses conceitos, percebi que em todos os lugares onde me sinto parte de uma comunidade, esses três conceitos estão presentes: no meu círculo de amigos, nos lugares onde gostava de trabalhar, nas sociedades médicas onde tive participação ativa, na academia… e que estavam visivelmente ausentes onde não me encaixava bem, eram todas comunidades que exibiam esse tipo de comportamento de não se importar com o outro.
Essas trocas não monetárias não são oriundas apenas de uma visão altruísta do mundo, mas da consciência de que os interesses pessoais são inseparáveis dos interesses da própria comunidade, e que as trocas não dependem de acordos escritos ou de aferição. São apenas coisas que fazemos ao entender que é um bem comum. Coisas como trocar um plantão no final de semana, oferecer uma carona dando uma grande volta ou ficar até mais tarde para que alguém possa ir buscar o pai no hospital. Sempre me impressionou como meus pacientes no SUS possuíam laços comunitários fortes e grandes redes de apoio mútuo, oferecendo proteção e garantindo o cuidado necessário.
Esses interesses em comum constroem, ao longo do tempo, valores não materiais, como convicções, propósitos e princípios, que são comuns a quase todos os membros da comunidade. Em certos casos, alguns desses valores são comuns apenas a partes da comunidade, que aprende a conviver e a respeitar isso.
Nessa interação contínua de trocas não monetárias e de desenvolvimento de valores não materiais, criamos proximidade com as pessoas, acumulamos aprendizagem coletivamente, aprendemos uns sobre os outros, acerca de bons e de maus hábitos, sobre o que nos irrita ou contenta. Afinidades então se desenvolvem, reforçando os laços de proximidade. Como diz John Shook, o que fazemos no dia a dia muda nossos hábitos, e nossos hábitos mudam nossa cultura.
O Gerenciamento Diário (GD), uma das essências do sistema de gestão lean, envolve diversos elementos, mas é fundamentado em três idéias básicas: um propósito comum, formas de controlar nosso desempenho em busca desse propósito e como ajustar ou melhorar a operação quando as coisas não estão dando certo. A trilogia de Joseph Moses Juran, um dos mais conhecidos mestres da gestão da qualidade, resume essas ideias: planejar, controlar e melhorar com foco na qualidade.
Os huddles diários são a ferramenta central na execução dessas atividades, mas é também outra coisa ainda maior. O convívio e as interações intencionais criadas através deles fomentam novos hábitos, criam um senso de proximidade, desenvolvem valores em comum e permitem que façamos trocas não monetárias baseadas na confiança e nesses valores em comum.
De maneira muito curiosa, a cultura da Toyota se desenvolveu trazendo elementos, ferramentas e artefatos emulando esses conceitos de comunidade descritos por Dee Hook. Eiji Toyoda, presidente do Conselho da Toyota à época e responsável pelo Sistema Toyota de Produção (TPS) junto com Taiichi Ohno, afirmou, durante entrevista em 1998, que o “sistema de sugestões” (parte do TPS) envolvia “fazer as pessoas se reunirem por conta própria para pensar em maneiras melhores de se trabalhar. Era como se todos estivessem de mão dadas no gemba (lugar onde o trabalho é realmente executado). A grande maioria das decisões eram tomadas em conjunto entre times e lideranças, no gemba”.
É como se os fundamentos que constroem as comunidades locais tivessem sido transferidos para dentro da fábrica, formatados como ferramentas gerenciais. Hoje criamos comunidades com essas mesmas ferramentas em nossos hospitais e serviços de saúde.